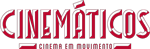Iniciar um filme focando na imagem de Jesus crucificado é, praticamente, uma carta de intenções. Felizmente, estamos num filme dos irmãos Coen, portanto, qualquer expectativa será subvertida quase como regra. Ave, César! é uma obra maior que suas partes isoladas, e desde seu início pouco promissor com cena de confessionário repleta de exagerada culpa católica seguida de uma narração que não tem a menor utilidade somos levados a crer que trata-se apenas de mais um filme da leva despretensiosa da dupla, a exemplo de Matadores de Velhinhas ou E Aí, Meu Irmão, Cadê Você?. Mais alguns poucos minutos para estabelecer alguns detalhes e personagens e fica evidente que, de fato, estamos diante de mais de suas provocativas e substanciais comédias, trocando o humor negro que lhes é característico por uma sorte de figuras tão absurdas quanto simbólicas de uma era passada, apresentada aqui de forma única e servindo quase como um contraponto solar ao inferno “hollywoodiano” e claustrofóbico visto em Barton Fink.
A relação entre as duas obras não é gratuita. O fictício estúdio Capitol Pictures visto aqui é o mesmo contratante de um dos mais torturados roteiristas já apresentados no cinema, o que torna ainda mais interessante a possibilidade de estarmos testemunhando uma espécie de realidade compartilhada e ampliada do longa que consagrou a dupla. Enquanto Barton Fink era centrado no protagonista-artista homônimo no ato da criação de filmes e lutando com sua criatividade numa indústria feita para vender fórmulas prontas, aqui temos a própria Hollywood como centro do universo, mais especificamente na figura de Eddie Mannix, um fixer ou, em português aproximado, “resolvedor” de problemas do estúdio, a exemplo de um épico religioso que tentará não ofender ninguém, astros sequestrados no meio de filmagens, colunistas de fofocas sobre estrelas e até mesmo um mini-John Wayne que não sabe pronunciar palavras como um cavalheiro.
Partindo desse ponto, com uma gama de referências variadas e tão caras ao próprio ato de fazer cinema, os Coen divertem o espectador enquanto brincam felizes como pintos no lixo, indo de musicais esdrúxulos com uma velada tendência ao homoeroticismo com Channing Tatum, passando por Scarlett Johansson de sereia numa elaborada sequência de performance aquática e chegando em westerns bem menos brutais que os dirigidos pelos irmãos. O parceiro habitual da dupla atrás das câmeras, Roger Deakins, mais uma vez prova seu inegável e versátil talento, emulando películas e suas tonalidades, a forma de iluminar e enquadrar as produções da época, mudando frequentemente a razão de aspecto com seus filmes dentro do filme. A atmosfera lúdica, perpassando diversos sets de longas falsos, nunca pára, o que pode cansar alguns espectadores e passar a impressão de uma obra mais preocupada em apresentar sketchs isoladas em sacrifício de apenas um ou dois conflitos principais densos, mas aos poucos Ave, César! consegue unir a maior parte de suas pontas, seja para concluir piadas feitas minutos antes ou para, tematicamente, criar uma relação entre suas várias subtramas, além de reforçar o retrato da tal indústria no seu apogeu e o que ela representa, em maior ou menor grau provando que nada ali está apenas de forma gratuita para fazer graça.
 |
|---|
| Foto: Divulgação |
Entre os muitos momentos que evidenciam o brilhantismo do roteiro estão os jogos entre ilusão e veracidade, indo além simplesmente da separação entre realidade e ficção dos filmes realizados pela Capitol, interferindo na forma como as estrelas eram divulgadas também como parte fundamental do imaginário popular, criando casais falsos entre atores sob contrato ou, especificamente, vendendo a imagem de boa moça para a bad girl retratada por Scarlett Johansson, encantadora em tela, mas uma bruta problemática tanto no jeito de falar quanto nas atitudes por trás das câmeras. Esse limite da artificialidade é testado de forma divertida quando as gêmeas colunistas de fofoca interpretadas por Tilda Swinton declaram enfaticamente que a “verdade” deve ser divulgada a qualquer custo, enquanto Mannix já está passos a frente criando suas próprias ficções que servem tanto como damage control quanto uma forma específica de entretenimento e produto cultural, numa época em que estrelas já ditavam tendências e eram vistas como modelos comportamentais a ser seguidos. Boa parte dessa dicotomia termina lembrando a série Mad Men, não devido apenas à classe dos Coen em retratar um determinado período de forma visualmente impecável, mas também pela óbvia relação de homens em escritórios ditando padrões e moldando mentes via manipulação em massa.
Evidentemente, boa parte do que move o filme está diretamente ligado ao ato de resolver problemas, e Eddie Mannix (Josh Brolin, divertindo de forma sisuda) é o elo entre todas as subtramas, checando o relógio em planos-detalhe em quase toda cena que aparece e murmurando para si mesmo que um conflito menor “resolveu-se sozinho”, sem sua interferência, com um certo alívio. A relação com Mad Men aqui torna-se mais uma vez evidente, quando um certo personagem, ao tentar convencer Mannix a assumir um alto cargo na indústria da aviação, descreve seu cargo atual como frívolo e de futuro questionável quando todos os lares possuírem uma TV. Um dos argumentos maiores é declarar que sua companhia estava presente em testes com a bomba atômica, e que nosso querido personagem pode fazer parte desse glorioso futuro. Seu conflito interno é sobre o trabalho árduo que digna o homem ou o lucro fácil adquirido de forma moralmente questionável, e toda a culpa católica, inicialmente chata na abertura, volta aqui com uma vingança para atar o filme de forma impressionante.
Brolin tem mais tempo em tela, mas o resto do elenco não decepciona em suas partes um pouco mais descontraídas: Clooney é o que tem o trabalho mais fácil, como sempre, assumindo o modo bonachão que o consagrou nas parcerias anteriores com os Coen, enquanto o novato Alden Ehrenreich surpreende como um astro caipira de westerns cheio de boas intenções. Tilda Swinton aparece como doppelgänger de si mesma, e, convenhamos, como isso pode decepcionar? Destaque final para Frances McDormand, numa das poucas sequências que flerta, simultaneamente, com o humor negro e o amor fetichista ao cinema, numa cena envolvendo uma moviola e que realiza mais do que aparenta. Nem entremos nas inúmeras estrelas que surgem inesperadamente a quase todo momento.
E surpresas é o que Ave, César! mais tem a oferecer, quase sempre de forma positiva, seja com diálogos ou situações inusitadas – um certo grupo comunista de métodos e intenções hilárias pode ser incluído desde já entre as criações memoráveis dos Coen. A boa e velha máxima de que comédia nada mais é que Tragédia + Tempo encaixa-se perfeitamente aqui, e o distanciamento histórico provê os Coen com o balanço certo entre melancolia e crueldade. O tal “contemplar” em destaque na imagem final da projeção associada à mensagem de bondade do filme dentro do filme – focando no rosto da equipe de filmagem – contrastam com as doses de cinismo tanto com capitalistas trazendo o armagedom quanto intelectuais de ideologia furada, provando que, aqui, os Coen conseguiram finalmente unir obsessões religiosas e o amor à sétima arte como entretenimento e provocação. Não é pouca coisa, e, assim como o cinema, Ave, César! merece ser visto, lembrado e celebrado.
Veja também:
Leia também:

AUTOR
AUTOR
Participe do canal
no Whatsapp e receba notícias em primeira mão!
Acesse a comunidade