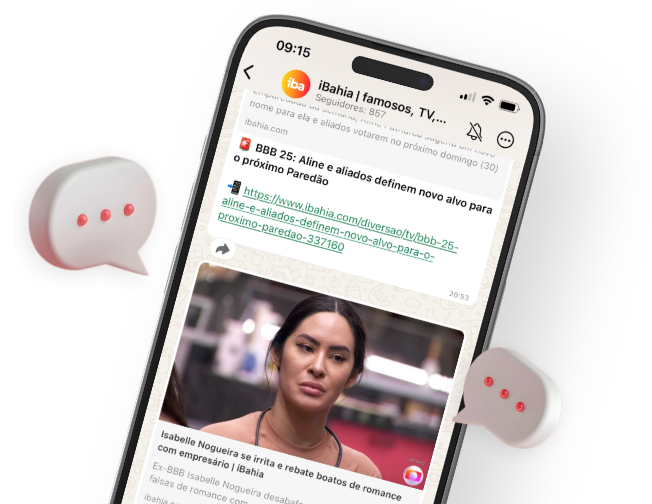Thais Machado, pedagoga, 29 anos, se preparava para o dia em que finalmente conheceria o amor de sua vida, Maya. Ela já a esperava por 41 semanas e 4 dias, quando chegou à maternidade, depois de um pré-natal respeitoso, feito na Casa Angela, localizada na zona sul de São Paulo (SP). O parto não poderia acontecer na casa de parto porque a gravidez passava de 41 semanas e a mãe ainda não sentia nenhuma contração. Seria preciso recorrer a uma indução. Thais esperava viver os dias mais felizes, mas, ao contrário, encontrou desrespeito e dor.
“Foi o oposto do que vivi na Casa Angela. Já na recepção do Amparo Maternal (maternidade localizada na Vila Mariana, na zona sul de São Paulo, SP), senti uma frieza muito grande”, contou, em depoimento exclusivo a BabyHome.
Leia também:
Felizmente, contrariando suas primeiras impressões, Thais foi atendida por uma obstetra muito atenciosa, segundo ela. A profissional de saúde leu o plano de parto, redigido com todos os desejos da gestante, e aprovou. “Começamos a fazer a indução e eu não entrei em trabalho de parto ativo. Muito pelo contrário. A Maya entrou em sofrimento fetal e a obstetra que estava me acompanhando falou que eu teria de ser encaminhada a uma cesárea”, lembra. A obstetra disse que sentia muito e que tentaria seguir o plano de parto, conforme o pedido de Thaís. Ufa!
No entanto, depois disso, a realidade foi bem diferente. Um médico e uma médica que nunca tinham visto, nem conversado com a gestante, fizeram a operação. Eles não dirigiram uma palavra sequer à paciente. “Falavam de tudo, menos de mim. Não perguntaram nada sobre a minha vida. Conversavam sobre viagens…”, lembra, dolorosamente.

Antes disso, dois outros momentos já tinham incomodado profundamente Thaís, que sabia que o que estava passando tinha nome: violência obstétrica. Durante a preparação, uma das enfermeiras perguntou, de uma maneira desdenhosa, enquanto ela sofria as dores indescritíveis das contrações induzidas: “O que doeu mais, as tatuagens que você tem ou essas contrações?”.
Thais também foi depilada sem ao menos ser informada do que estava sendo feito. “Eu sabia que não precisava. Na Casa Angela tinham me dito que não era necessário depilar. Eles nem me avisaram sobre o procedimento. Só percebi muitas horas depois do nascimento da Maya, quando estava no banho”, indigna-se.
E não acabou por aí. O pós-parto imediato também trouxe momentos difíceis. Enquanto aguardava a recuperação da anestesia, em um quarto, o bercinho de Maya foi colocado ao lado de sua cama. Mas não tão perto, a ponto de Thaís poder tocar na filha.
“A enfermeira que estava no quarto, trabalhava, fazia diversas coisas. A Maya chorava muito. Eu tentava pegar no bracinho dela, eu esticava a mão pra tentar passar a mão nela, fazer algum carinho e eu não conseguia, não alcançava. Pedi para essa enfermeira. Falei: ‘Você pode, por gentileza, trazer o bercinho mais perto? Eu só quero fazer um carinho nela, ela está chorando muito’. Ela só falou assim: ‘Se você quiser esperar!’ (com entonação grosseira, impaciente). Então, ela fez todo o trabalho dela, acabou o plantão e ela não trouxe o berço para o meu lado”.
Mães negras sofrem mais violência obstétrica
Infelizmente, Thaís não está sozinha nessa. A violência obstétrica atinge muitas mães – às vezes, sem que elas se deem conta. Os números ficam ainda maiores quando falamos de mães negras. Segundo um estudo publicado pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), A cor da dor, da pesquisadora Maria do Carmo Leal, a chance de a mulher negra não receber anestesia, por exemplo, durante o parto, é 50% maior em relação às brancas.

“Ainda existe o conceito racista de que mulheres negras são mais resistentes à dor”, lembra a ginecologista e obstetra Larissa Cassiano, da Theia, clínica especializada na saúde da mulher gestante, em São Paulo (SP).
“Algumas teorias dizem que na época dos escravizados, os escravos mais fortes eram os que conseguiam chegar. Isso porque na viagem de navio, que durava muitos dias, eles não tinham condições. Muitos morriam por falta de higiene, doenças, desidratação, fome. Então ficou esse mito de que o escravo é mais forte e que o racismo perpetua, fazendo com as mulheres negras sejam submetidas a vários tipos de violência”, explica a médica.
Ainda segundo a pesquisa da Fiocruz, 10,7% das mulheres pretas não recebem anestesia local ao receber o corte no períneo, a chamada episiotomia (prática também desaconselhada, de acordo com as evidências atuais da ciência).
As mulheres negras também têm maior risco de ter um pré-natal inadequado, realizando menos consultas do que o indicado, são impedidas mais vezes te ter um acompanhante na hora do parto (o que é um direito garantido pela lei) e peregrinam mais em busca de atendimento em hospitais e maternidades.

E engana-se quem pensa que violência obstétrica é só física. Ela também é emocional, verbal… Pode assumir várias formas, que deixam marcas profundas na história das mulheres, na maternidade e fora dela. Afetam os relacionamentos, a autoconfiança e muito mais. “Muitas vezes a violência obstétrica não é um ato, em si, As palavras podem ser violentas, chamar a mulher de ‘mãezinha’, dificultar a entrada do acompanhante, quando a mulher sofre um aborto espontâneo, por exemplo, e é colocada em um local inadequado, junto a mães que estão tendo seus filhos… Tudo isso é violência”, lembra Larissa.
“Duas amigas minhas brancas tiveram filhos na mesma maternidade e disseram que foi excelente, que foram super bem tratadas. Tudo o que elas queriam, aconteceu, avisavam a elas sobre os procedimentos. Então, eu acho que tem muita relação, sim, com o fato de ser negra”, analisa Thaís.
Informação: sua principal arma
Mas como mudar esse cenário devastador e injusto no sistema de atendimento ao parto? Munindo-se de informação. A mulher precisa conhecer seus direitos, as condutas de um atendimento humanizado e responsável e poder contar com profissionais de saúde que as respeitem e as escutem.
“O que seria muito importante para mudar esse cenário, principalmente entre as mulheres negras, é informação, um pré-natal humanizado, médicos capacitados, envolvidos na ciência, nos benefícios que o parto humanizado traz”, opina Thaís, que guarda não apenas lembranças felizes de seu parto, como deveria ser, mas também memórias de dor, sofrimento e desrespeito.
A obstetra Larissa reforça a ideia. “É preciso levar informação para a gestante. E, para isso, o profissional de saúde também deve ser informado. Caso contrário, ele acaba cometendo ato violento e mantendo esse ciclo. É preciso que ele entenda o que é violência obstétrica – e que isso é grave”, aponta.
Para a médica, que é negra, faltam também médicos negros, uma consequência da questão social. “Ainda vivemos o reflexo de um processo em que pessoas negras sofrem marginalização, têm dificuldade de acesso e também de se manter em espaços universitários. É urgente olhar para todo o contexto”, reforça.
Boca no trombone
Algumas coisas mudam, mas a um passo lento, em uma velocidade muito inferior do que a necessária para uma transformação do cenário obstétrico brasileiro. “O movimento de humanização do parto, que ganhou força nos últimos anos, já trouxe muitos avanços, mas a caminhada ainda é longa”, diz Larissa.
O que fazer, então, enquanto isso? “A mulher que passa por uma situação de violência deve, sim, buscar seus direitos. Abrir uma reclamação no hospital no CRM (Conselho Regional de Medicina), no Coren (Conselho Regional de Enfermagem), enfim, nos órgãos responsáveis para que se abram investigações”, orienta a médica.
No entanto, é preciso que essas queixas sejam ouvidas e validadas. Não foi o que aconteceu com Thais. Ela conta que, depois de tudo o que sofreu, uma pessoa da maternidade responsável pela ouvidoria, perguntou a ela como havia sido o serviço do hospital e ela respondeu, relatando tudo. “A moça disse que isso que eu estava dizendo era muito grave e que eu deveria registrar por escrito para que o documento fosse enviado aos órgãos responsáveis, que analisariam tudo para tomar alguma providência. Minha filha já tem 3 anos e eu nunca recebi uma resposta”, afirma a pedagoga. “Nossas queixas precisam ser feitas e ouvidas, validadas”, reclama.
Enquanto isso, é importante continuar discutindo a questão e trazer à tona esses casos de violência, profundamente entrelaçados com o racismo estrutural. Não apenas no Mês da Consciência Negra, mas em todos os dias do ano.
*BabyHome entrou em contato por e-mail e mensagem com o Amparo Maternal, mas não obteve retorno até o momento da publicação desta reportagem. Por isso, ela pode ser atualizada com novas informações.
Leia mais sobre Maternidade no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.
Veja também:
Participe do canal
no Whatsapp e receba notícias em primeira mão!